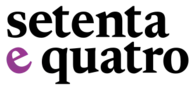Aviso: O relatório que se segue contém descrições de violência sexual.
Hospitais e consultórios médicos deveriam ser locais seguros, mas não o foram para as 47 mulheres com quem o Setenta e Quatro falou. Elas foram sujeitas a abusos sexuais por médicos, enfermeiros e assistentes operacionais e vivem até hoje com esse trauma. Como é que isto aconteceu ao longo das últimas duas décadas? Quais as falhas do sistema? Da Justiça? Dos Hospitais?
Há muitos meses que tinha dores menstruais insuportáveis. A melhor solução era mesmo ir ao médico. Foi a uma consulta, depois a uma segunda. O comportamento do médico não lhe levantou qualquer suspeita, diria até que as consultas foram banais. Receitou-lhe medicação e as dores pararam. Mas o sucesso do tratamento exigiu uma terceira consulta. Sandra marcou-a em 2023.
Estava agendada para as 16 horas. Era a terceira vez que Sandra ia àquele consultório privado, na Área Metropolitana de Lisboa. Tinha dado início a um tratamento que estava a ter resultados positivos e pela primeira vez as hemorragias (e as dores) tinham parado. Sandra tem endometriose. É uma doença em que o tecido endometrial - o que forra o útero - cresce fora da cavidade uterina. Afeta uma em cada dez mulheres em idade fértil e provoca dores e possíveis hemorragias. “Apesar das dores, estava feliz por algo positivo estar a acontecer”, conta.
Entrou no gabinete e o médico disse-lhe que se dirigisse “à salinha”, uma divisão específica para exames. Estranhou, não era suposto fazer exames: tinha marcado a consulta para falar sobre o sucesso da medicação que estava a tomar. Naquela divisão, o médico pediu que despisse a blusa. Não usava soutien, não usa soutien.

As a nonprofit journalism organization, we depend on your support to fund more than 170 reporting projects every year on critical global and local issues. Donate any amount today to become a Pulitzer Center Champion and receive exclusive benefits!
Deitou-se na marquesa e o médico aproximou-se. “Levou as mãos dele aos meus seios e começou a apalpá-los”, conta Sandra. “Não era suposto examinar-me os seios, não me tinha queixado em momento algum.” Para ela, o tipo de toque foi sexual, não clínico. “O olhar dele nunca se cruzou com o meu, mas sei e senti que algo estava a acontecer e eu não estava a perceber ao certo de que se tratava.” Sandra congelou ou, como profissionais de saúde mental dizem, freezou. Sem saber para onde olhar, fixou a sua atenção nas paredes azuis do consultório e manteve-se assim, estática, até ao fim daqueles dois minutos que lhe "pareceram horas". Era o mesmo azul com que em criança fazia desenhos de consultórios médicos, gostava de desenhar salas de consultórios e médicos a atender pacientes. É um pormenor que agora não esquece.

“Depois, perguntou-me se tinha pelos [púbicos] na vagina.” Sandra disse que não com a cabeça. “Ele fez um gesto com a mão para que eu tirasse as cuecas - tinha as calças desapertadas - tocando-me na virilha”, explica, desconfortável. Sem saber como reagir, sentindo repulsa, virou-se para o lado esquerdo, mas o médico, não percebendo ou ignorando esse sinal, continuou. Insistiu ainda mais.
“Insistiu que tirasse as calças, porque era necessário fazer-me uma ecografia pélvica com sonda endovaginal.” A decisão de se fazer esse exame foi tomada no momento, conta Sandra, uma vez que nem o ecógrafo nem o material necessário estavam previamente preparados. Mas Sandra obedeceu. Despiu-se e quando deu por si o médico já tinha inserido a sonda, sem sequer usar luvas. “Só ontem é que me apercebi de que a máquina nem sequer estava ligada”, refere, via videochamada, há três semanas.
O médico nunca lhe olhou nos olhos. “Olhava para o computador, mudou de assunto e a consulta acabou”, conta a mulher com mais de 30 anos. O que restou desta consulta foi uma receita que discriminava três embalagens da medicação que teria de continuar a tomar. Nunca teve acesso ao relatório do suposto exame, nem ele chegou alguma vez a constar no seu processo clínico. É como se nunca tivesse acontecido.
O caso de Sandra não foi uma “grave falha” de conduta, mas, garante, abuso sexual. Geralmente a ecografia ginecológica não é um exame que se faça por rotina. Ou não se devia fazer. “Mas há muitos ginecologistas que no privado [consultórios] fazem o exame em contexto de consulta, quase como exame objetivo”, explica um ginecologista-obstetra que prefere não ser identificada por ter medo de sofrer represálias.
Sandra sofre um "mal-estar hediondo" desde o dia em que sofreu o abuso. “A cada dia que passava, o nojo que sentia de mim era indescritível.” Levou alguns dias até contar ao marido o que aconteceu: “Fui abusada”. Só depois de dois meses de terapia é que conseguiu reconhecê-lo em voz alta.
Seguiram-se banhos consecutivos. “Sentia-me tão suja”, admite. O marido não conseguia perceber o porquê de se lavar constantemente. “Pedia-lhe que se sentasse comigo e me contasse o que tinha acontecido. Nesse dia, toquei-lhe na perna sem querer e ela começou a chorar, sem conseguir respirar”, afirma, angustiado.
Não foi a primeira vez que o marido deixou Sandra à porta do consultório. Há cerca de oito anos que estão juntos e sempre acompanhou a esposa durante todo o processo de tratamento da doença. “Uma pessoa procura alguém com conhecimento. Procura um tratamento porque está numa posição muito vulnerável. Procura ajuda porque precisa dela e depara-se com uma situação de desproteção total”, continua.
O ato cometido pelo médico enquadra-se no crime de coação sexual, tal como o artigo 163.º do Código Penal o define. Sandra ainda pode apresentar queixa. Tem dois meses para o fazer até atingir o limite máximo permitido por lei: seis meses. Foi aconselhada a fazê-lo pela psicóloga e pelo marido, mas o medo e a vergonha que sente assumem um lugar que ainda permanece inalcançável.
O que se esconde quando a porta se fecha
A violência sexual em contextos hospitalares e consultórios médicos existe. Apesar de haver poucos dados públicos consistentes sobre abusos sexuais cometidos por médicos, enfermeiros e assistentes operacionais, o Setenta e Quatro ouviu a história de Sandra e de outras 46 mulheres sobreviventes de abuso sexual (coação ou violação) em hospitais, públicos e privados, e consultórios.
Todas estas mulheres afirmam perentoriamente nunca ter existido consentimento. Das 47 mulheres ouvidas, que sofreram abusos sexuais entre 2000 e 2023, apenas 14 nos autorizaram a usar os seus depoimentos nesta investigação, que vamos contar nas próximas semanas. As restantes 33 ficaram-se pelas entrevistas exploratórias: o medo e a vulnerabilidade emocional a que se submetiam ao recordar o trauma era enorme. Não queriam passar por isso. Não se queriam expor, e muito menos denunciar os seus agressores com medo de serem descredibilizadas. Também por essa razão os nomes das mulheres sujeitas a estes abusos são fictícios, a que se acrescentam motivos de privacidade e proteção legal. É que os crimes de coação e violação são semi-públicos, ou seja, é necessária queixa da vítima, mas as autoridades e funcionários públicos são obrigados a comunicá-los às autoridades competentes.
Nos últimos 12 meses, falámos com especialistas e representantes jurídicos, médicos, enfermeiros, assistentes operacionais, profissionais de saúde mental especializados em Violência Sexual e Stress Pós-Traumático, ONG, investigadores, ordens profissionais, sindicatos e dirigentes associativos para perceber de que forma todas estas mulheres sobreviventes, vítimas e pacientes continuam desprotegidas em serviços de saúde em Portugal. Mas, sobretudo, como se pode combater e prevenir estes abusos à liberdade e autodeterminação sexual das mulheres.

Analisámos caso a caso, falámos com pessoas próximas das sobreviventes, consultámos processos judiciais, lemos relatórios nacionais e internacionais e olhámos para os poucos números de queixas e reclamações que existem sobre este contexto que teve um aumento significativo desde 2015.
Dos 14 relatos que ouvimos e que nos autorizaram a contar, três mulheres apresentaram queixa, mas só duas avançaram para tribunal, resultando na condenação com pena suspensa de um enfermeiro. Este não foi o único processo judicial a que o Setenta e Quatro teve acesso, mas foi o único em que conseguiu falar com todas as sobreviventes envolvidas.
A inexistência de protocolos de ação ou prevenção de situações de violência sexual entre profissionais de saúde e pacientes revela uma “grave negligência” com que o tema é tratado pelas instituições de saúde portuguesas, dizem vários especialistas. Nem sempre as reclamações chegam às entidades competentes e nem sempre são feitas diligências e inquéritos internos.
Além disso, não existe um protocolo nacional do Ministério da Saúde ou da Direcção-Geral de Saúde, de prevenção e procedimentos em caso de violência sexual entre utentes e profissionais de saúde. O mesmo não acontece com o assédio moral e sexual entre profissionais de saúde: o plano de ação para a prevenção de violência na Saúde existe desde 2020. Assim, cada instituição de Saúde decide internamente como proceder quando um profissional de saúde violenta sexualmente uma utente, mas por lei deve abrir um inquérito interno e comunicar a queixa às autoridades judiciárias.
O mesmo acontece na Justiça: da queixa à condenação, o processo é muito longo. E, por isso, muitas vítimas acabam por desistir ou nem sequer avançar - muitas vezes a falta de prova material deixa-as num limbo judicial. Não há câmaras de vigilância dentro das instituições de saúde (não são permitidas pela lei da privacidade), a prova material muitas vezes não é recolhida nas 72 horas legais, isto quando existem vestígios materiais e no caso de voltarem ao local onde, muitas vezes, sofreram o abuso. Nem todos os hospitais têm kits de violação preparados para recolher prova e isso pode fazer com que as mulheres se tenham, por vezes, de deslocar centenas de quilómetros a outras unidades de saúde.
No caso dos arquipélagos da Madeira e dos Açores, “a realidade é bem mais difícil, podem existir sítios mais escondidos em que seja difícil chegar a um hospital ou a um perito médico-legal”, lamenta Teresa Maria Magalhães, médica especialista em Medicina Forense - Legal.
Ainda assim, Teresa Maria Magalhães defende que tudo depende muito mais da “vítima do que da Medicina Legal”. “A vítima nem precisa de apresentar queixa, se quiser dirige-se diretamente ao serviço de urgência do hospital e o hospital deve chamar o perito médico-legal, mas se há atrasos, é porque a maior parte não chega dentro daquela janela de oportunidade que consideramos ser o tempo adequado para fazer as colheita de vestígios com segurança”, reitera a também professora da Unidade do Departamento de Ciências da Saúde Pública, Forenses e Educação Médica, da Faculdade de Medicina do Porto. Mas estes vestígios nem sempre existem. E estas mulheres sobreviventes nem sempre conseguem chegar lá.
Outra possibilidade é dirigirem-se a um Centro de Atendimento de Crise, como é o caso do EIR - Centro de Atendimento Emancipação, Igualdade e Recuperação (EIR), coordenado pela UMAR, mas só existem dois em Portugal: no Porto e em Lisboa.
Além de todos estes entraves, o reconhecimento do abuso por parte das vítimas é um processo doloroso. Envolve fenómenos de culpabilização, estigmatização social e até vergonha. As perguntas que fazem a si próprias são constantes: o porquê de não terem evitado ou de não terem feito qualquer coisa para evitar o abuso torna-se um beco sem saída.
“Uma questão a que é dada pouca relevância e que está mais ou menos provada quer noutros países da Europa quer em Portugal, e esse é um fenómeno físico semelhante: muitas vezes as mulheres não apresentam vestígios, porque entram naquele estado de congelamento, vou usar a expressão inglesa: o freeze", explicou Helena Leitão, Procuradora da República que terminou no final de maio o seu segundo mandato como membro do Grupo de Peritos sobre o Combate à Violência contra as Mulheres e a Violência Doméstica (GRÉVIO) do Conselho da Europa."Congelam autenticamente e isso foi muitas vezes usado pela oposição, porque, não havendo vestígios, significa que não há uma contrariedade, quase como se fosse ‘culpa da mulher’.”
A violência contra as mulheres é generalizada em toda a União Europeia: “uma em cada três mulheres sofre de violência sexual”, lê-se na diretiva proposta à Comissão Europeia em março de 2022, relativa ao combate à violência contra as mulheres e à violência doméstica.
Um estudo feito do Centro de Atendimento Emancipação, Igualdade e Recuperação (EIR), coordenado pela UMAR e a que o Setenta e Quatro teve acesso em primeira mão, vai ainda mais longe: se os profissionais de saúde, pela proximidade com os pacientes, se encontram numa posição estratégica para detetar riscos e identificar possíveis vítimas de violência, 73,2% dos 325 inquiridos dizem não se sentir seguros para responder a um pedido de ajuda de uma vítima de violência sexual.
Questionados sobre se tinham formação específica em violência sexual para intervir em situações deste tipo, 93,8% dos inquiridos respondeu não ter. Além disso, 73,2% respondeu não conhecer os serviços de apoio especializados para vítimas de violência sexual, diz o estudo Os desafios na intervenção com vítimas de violência sexual: Um estudo com profissionais, que será tornado público nas próximas semanas.
Prescrever um estigma que invisibiliza a violência sexual
“Quem acreditaria em mim?” É uma pergunta que não tarda a ser feita nos casos que ouvimos: todas as vítimas e mulheres sobreviventes com quem falámos e que não apresentaram queixa referiram o estatuto que os abusadores têm e a profissão que desempenham (médicos, enfermeiros, mas também assistentes operacionais) como a principal razão para desistirem. E as poucas mulheres que prosseguiram com a queixa sentiram em algum momento do processo que a sua palavra estaria a ser posta em causa, porque seria sempre a palavra de “uma mulher contra a de um médico ou enfermeiro”, ou porque consideravam “improvável algo assim acontecer dentro de uma instituição de saúde”.

“Não há profissões ou estatutos sociais imunes aos agressores sexuais”, reitera Catarina Barba, especialista em Violência Sexual e Stress Pós-Traumático ao Setenta e Quatro. Há um trabalho urgente, continua, a fazer de desconstrução social e cultural: “não é porque um médico que supostamente ‘nos protege’, que ‘cuida de nós’, que ‘estuda muito’, deixa de poder ser um potencial agressor sexual - ou qualquer outro profissional de saúde”, afirma.
O número de queixas de utentes que chegam à Entidade Reguladora da Saúde (ERS) alerta para isso: as reclamações sobre violência, agressão e/ou assédio aumentaram drasticamente desde 2015. Em 2022, o número total de queixas foi de 149: 28 casos em hospitais privados com internamento, 15 em privados sem internamento, 79 em hospitais públicos com internamento, 19 em públicos sem internamento, sete em “social” (lares ou cuidados continuados/paliativos) e um em “social” sem internamento.
Passaram-se menos de seis meses desde que o ano de 2023 começou e já foram apresentadas 58 queixas, o que equivale a 69% das do ano anterior.

Esta realidade era ainda mais nebulosa até 2014, quando a ERS começou a receber queixas e reclamações de utentes contra profissionais de saúde. No entanto, a entidade reguladora da saúde não discrimina, por causa da lei da privacidade, nas suas estatísticas as situações de violência sexual, aglomerando-as sob a mesma rúbrica: “violência, agressão ou/e assédio”.
Em declarações ao Setenta e Quatro sobre qual o procedimento efetuado após receber uma queixa, respondeu que, “quando deteta indícios de incumprimentos e requisitos ou procedimentos fundamentais para a segurança do doente, procede a uma avaliação mais aprofundada da situação, através de diligências específicas junto dos prestadores e/ou procede à abertura de um novo processo de inquérito, de avaliação ou mesmo de contraordenação”.
No que diz respeito aos hospitais públicos, o processo de inquérito é da responsabilidade da Inspeção-Geral das Atividades em Saúde (IGAS). O Setenta e Quatro insistiram, durante vários meses, junto da IGAS para que nos fosse possível perceber quantas das queixas resultaram na abertura de inquérito e, destes, quantos em processos em tribunal, mas não obtivemos resposta até à publicação desta investigação.
O Setenta e Quatro tentou, ao longo do último mês, perceber junto do Ministério da Saúde se tinha conhecimento das queixas, que tipo de procedimentos são instaurados nos hospitais e que medidas ou regulamentos existiam, mas não obteve resposta até à publicação desta investigação.
Se na última década os números têm vindo a crescer junto da ERS, o mesmo também se verifica quer em número de casos quer em número de queixas-crime. Olhemos para o Relatório Anual de Segurança Interna (RASI) de 2022. No que toca à criminalidade violenta grave e à criminalidade sexual, o relatório apenas destaca os abusos sexuais de menores (incluindo pornografia infantil) e o crime de violação.
Publicado no final de abril, o relatório indica que só em 2022 houve 519 casos de violação registados. É um aumento de 30,7% em comparação com 2021, quando se registaram 397 casos, uma subida de 72% desde 2015 - registou-se ainda um pico em 2019 com 431 casos.

Se os casos parecem raros à primeira vista, a diretora alerta para uma realidade que se mostra preocupante: as mulheres sobreviventes, vítimas de violência sexual, que contactam o centro de atendimento apresentam um número muito diferente se comparado com as de violência doméstica. O centro recebeu 153 queixas de violência sexual em 2022, sendo que só teve conhecimento de um caso em contexto hospitalar.
“O que temos percebido é que, por a violência sexual ainda ser uma violência muito invisibilizada, as mulheres não procuram a ajuda do centro. Há muito estigma”, acrescenta Marisa Fernandes, psicóloga no centro de atendimento da UMAR e uma das autoras do relatório sobre os desafios na intervenção com vítimas de violência sexual. O número de pedidos de ajuda tem de facto aumentado, mas esse aumento não tem sido observado na abertura de processos judiciais ou mesmo em acompanhamento efetivo das sobreviventes, dizem Marisa Fernandes e Ilda Afonso.
Apesar de 154 países já terem aprovado leis sobre violência sexual, nem sempre aplicam os padrões e recomendações internacionalmente implementados. Portugal é um desses casos. “O Conselho da Europa desde 2008 que recomenda a existência de pelo menos um Centro de Crise a cada 200 mil mulheres e atualmente existem dois centros especializados para mulheres vítimas de violência sexual, um no Porto e outro em Lisboa”, diz Marisa Fernandes, com Ilda Afonso a corroborá-lo.
“É notório que tanto no processo de denúncia como no apoio às vítimas há falhas e dificuldades em fornecer resposta, sobretudo por parte dos profissionais que intervêm diretamente com as vítimas. É necessário rever as práticas de intervenção, aumentar o número de respostas de atendimento e acompanhamento especializados e capacitar os profissionais que intervêm no âmbito da violência sexual”, alerta Ilda Afonso.
Se a violência sexual em contextos hospitalares é encarada como “atos isolados” pelos escassos números que se revelam publicamente, torna-se ainda mais difícil comprovar como nesses casos o trauma de uma pessoa pode “vincular a vítima ao agressor”. “Pode até existir ‘só’ qualquer coisa no trato que nos faz sentir desconfortáveis, mas nós ficámos. Porquê? Porque precisamos do médico, precisamos daquela consulta, precisamos daquele tratamento que só ‘aquela’ pessoa pode definir”, salienta a psicóloga Catarina Barba especialista em Stress Pós-traumático.
Rui Ferreira Nunes, psicólogo com um extenso trabalho com pessoas que sofreram abusos sexuais, realça que em termos clínicos sabemos que existe compulsão à repetição. "Uma pessoa vítima de abuso pode voltar a ser abusada num contexto que, de alguma maneira, replica a experiência do primeiro abuso. Numa situação em que haja um diferencial de poder, a pessoa fica um pouco à mercê da outra, uma vez que está normalmente numa posição de vulnerabilidade”.
A consideração do psicólogo não está de todo distante do que Catarina Barba nos diz sobre atos destes acontecerem em contextos hospitalares. Todas estas circunstâncias “inviabilizam uma mulher: a que foi tocada e a que foi violada”. E desacredita-a, “principalmente num ambiente hospitalar onde circulam outras pessoas, onde há a consciência e a sensação de que não se está sozinho e, a qualquer momento, alguém poderá ver ou ouvir”, conclui Barba.
A palavra de uma paciente contra a de um médico
Em sua casa, na região Centro do país, Paula diz como ser mãe está a ser um processo desafiante. A sua bebé ainda é pequenina. Foi exatamente na altura em que estava grávida, dez anos depois percebeu o que lhe tinha acontecido: “sofri abusos sexuais por um médico que era 20 anos mais velho do que eu”.
“A terapia ajudou”, começa por dizer por videochamada. Era uma memória que tinha recalcado na última década. Só há cerca de dois anos é que a começou a “trabalhar” terapeuticamente
A tendência em acertar num ginecologista era cada vez mais difícil para Paula, “porque nunca gostava de nenhum”. Naquele verão, com 20 anos, decidiu aceitar a sugestão da mãe e foi ao médico ginecologista que a acompanhava, e teve duas consultas. Já na altura desconfiava que pudesse ter endometriose, mas tinha de esperar meses por uma consulta no hospital público da sua área de residência. Preocupada, queria ser examinada o mais depressa possível, porque as dores de menstruação eram muito fortes.
O gabinete médico estava dividido em duas partes: o local junto à janela onde o médico se sentava de costas, de frente para a sua secretária com o computador e alguns utensílios importantes. Do lado oposto, estava um pequeno local reservado por uma cortina, em torno de uma marquesa, que aglomerava do lado esquerdo uma pequena ilha de instrumentos médicos e o ecógrafo.
Paula entrou, demorou cerca de cinco minutos a explicar ao médico o que se passava e ele pediu que se deitasse na cama para a examinar. “Estava a ser observada por ele, na maca, e perguntei-lhe se era normal ter dores durante a penetração [sexual]”, conta Paula. Queria perceber o porquê, uma vez que tem o útero invertido e não sabia se era algo comum, que provocasse dor. “ Respondeu-me que não”. Mas o que se seguiu deixou Paula sem saber o que fazer e como reagir: “Ele começou a penetrar-me com os dedos e continuou, repetidamente, a tentar provocar-me um orgasmo”. Ela não o teve.
Ele continuava e ela não conseguia reagir, o “choque era tanto” que Paula se manteve inerte, completamente bloqueada, sem se mexer. “Só queria que aquilo acabasse para me levantar e me ir embora”, admite, angustiada. Depois disso, não se consegue recordar se lhe disse mais alguma coisa. Mas lembra-se de um pormenor que a atormenta até hoje: ele não estava a usar luvas. “Entrei em pânico”, diz.
Este caso toca em várias questões levantadas nesta investigação. Comecemos pelas luvas. A norma emitida em janeiro de 2012 pela Direção-Geral da Saúde (DGS) - uma proposta conjunta entre o Departamento da Qualidade na Saúde, o Programa de Prevenção e Controlo de Infeções e de Resistência aos Antimicrobianas e a Ordem dos Médicos - não deixa margem para dúvidas. “As luvas devem ser usadas quando se prevê contaminação com sangue ou outros fluidos orgânicos”, lê-se no documento. Por outras palavras, as luvas devem ser usadas quando se toca em substâncias mucosas, porque segregam fluídos. Tudo o que seja desta natureza não pode ser tocado sem qualquer tipo de proteção.
Se o documento da DGS prevê isto a partir de 2012, já em 2009 a Organização Mundial de Saúde (OMS) também o recomendava no Glove Use Information Leaflet [Folheto informativo sobre a utilização de luvas]. No documento lê-se: “recomenda-se a utilização de luvas médicas para reduzir o risco de contaminação das mãos dos profissionais de saúde com sangue e outros fluidos corporais”.
Mas estes estão longe de ser casos únicos de médicos que não usam luvas ao examinar as pacientes. Todos os relatos de mulheres que ouvimos sobre a especialidade em Ginecologia referiram não ter sido examinadas com luvas. E este dado é relevante, porque mostra a predominância de uma “sexualização de um ato que é claramente premeditado”, avança Catarina Barba, psicóloga em Violência Sexual e Stress Pós-Traumático.

O desconforto de Paula era cada vez maior à medida que o médico se aproximava. Ficou de tal forma imobilizada que deixou de ter força nas pernas. A voz treme-lhe enquanto se esforça por recordar o que levou um ano a tentar esquecer. Engole em seco. Sabe que depois desta conversa passará uma semana ansiosa por ter revivido tudo, mas principalmente por o ter verbalizado.
Depois do que aconteceu, Paula passou a sentir culpa. “Culpa por ter perguntado algo que, de algum modo, poderia ter induzido algum ato.” A forma como lidou durante uma década com esta memória - ainda que recalcada em alguns pormenores - foi de que “o médico estava a demonstrar-me algo que era suposto saber e que não era um abuso sexual, porque a forma como representavam estes momentos nos filmes era algo violento, com um desconhecido, onde uma pessoa não dá consentimento”, acrescenta.
Para Marisa Fernandes, este é uma “crença” que precisa de ser desconstruída. O número de crimes de violação cometidos por desconhecidos é menor, como verificamos no RASI, 36,3% dos casos em 2022. “Os casos de violação e abusos são cada vez menos perpetrados por desconhecidos, temos de desmistificar esta crença de que o culpado é um homem que está ali numa esquina, pronto para atacar a vítima. Quando, na verdade, os agressores andam entre nós. São pessoas que transmitem esta confiança e em quem confiamos de certa forma”, explica a psicóloga.
Ao contrário de Sandra, Paula não estava sozinha. A mãe tinha-a acompanhado e aguardava-a na sala de espera. Foi também quem incentivou Paula a conversar com o Setenta e Quatro sobre o que lhe tinha acontecido. “Sinto-me segura em fazer isto por mim e por ela”, diz Paula, enquanto une as suas mãos às da mãe e ajeita uma pulseira.
“Assim que a vi [ao sair da sala do consultório], soube que algo mau tinha acontecido”, partilha a mãe. Os seus olhos enchem-se de lágrimas ao recordar um dos episódios mais traumáticos da vida da sua filha. “Corri para a apanhar, ela estava muito desorientada. Mancava, quase caía. Quando entrámos no carro, começou a balançar-se para a frente e para trás, a chorar histericamente”, continua, angustiada. A mãe não sabia o que fazer. Paula só pedia que fossem embora. Não conseguia estar ali.
Desde então nunca mais voltou a um médico ginecologista homem, nunca mais foi vista por médicos homens, nem sequer de outras especialidades, e fica extremamente ansiosa de cada vez que pensa ir a um hospital, a um consultório ou até mesmo em fazer análises. Paula teve a sua filha com muito medo e precaução. A médica que a acompanhou durante a gravidez era uma amiga de longa data e todos os exames obstétricos foram feitos com profissionais que conhecia. De outra forma “não teria voltado a um hospital ou a um consultório”.
Levar uma denúncia avante é um processo que carrega várias fases complexas e, por isso, muitas vítimas acabam por desistir ou nem sequer avançar. “Estes são crimes extraordinariamente frágeis e dolorosos para as vítimas e para todos os intervenientes que têm de contactar com elas”, explica Helena Leitão, Procuradora da República que termina o seu segundo mandato como membro do Grupo de Peritos sobre o Combate à Violência contra as Mulheres e a Violência Doméstica (Grévio) do Conselho da Europa.
As histórias de Sandra e de Paula são duas das 47 recolhidas pelo Setenta e Quatro contra médicos, enfermeiros e assistentes operacionais de hospitais (públicos e privados) e consultórios. A grande maioria dos profissionais de saúde (médicos e enfermeiros) não foi afastada do cargo, mesmo quando existem processos em tribunal.
A mãe de Paula incentivou-a a avançar com a queixa, mas os sentimentos de culpa e de vergonha voltaram a pesar: desistiram porque perceberam que era uma “ida sem volta”. “Quando tentei perceber o que fazer, um amigo advogado disse que ela não teria qualquer hipótese”. Era a palavra de Paula, na altura com 20 anos, contra a do médico, um profissional socialmente respeitado.
Com Cláudia Marques Santos, uma investigação em colaboração com o jornal Público, apoiada pela bolsa de jornalismo Gender and Equality do Pulitzer Center.