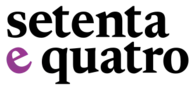Aviso: O relatório que se segue contém descrições sobre violência sexual.
Nem todos os hospitais e centros de saúde têm kits de violação, essenciais para a correta recolha de prova em casos de agressão sexual. Há mulheres que podem ter de se deslocar centenas de quilómetros para garantirem a prova contra quem as violentou e muitos profissionais de saúde não estão preparados para lidar com estes casos.
Um ecrã fixado na parede indicava um tempo médio de espera não superior a cinco minutos para a pulseira amarela. Telma tem gravado na memória que, naquela noite, estavam cerca de 29 pessoas nas urgências do hospital. Passaram três anos.
No início de março de 2020, uma semana antes do confinamento obrigatório por causa da covid-19 ser declarado, Telma regressou à sala de espera das urgências depois de ter passado pela triagem, com pulseira amarela no braço. Vários assistentes operacionais circulavam de um lado para o outro, entravam e saíam por duas grandes portas que davam acesso a um corredor longo. “Precisava de sair dali”, recorda Telma, depois de ter esperado duas horas. Estava no hospital para denunciar que tinha sido vítima de violação, quatro dias antes.
“A última coisa que uma pessoa que passou por estas experiências quer é ficar horas numa sala de espera caótica, a aguardar que a chamem e examinem. Isto vai contra todos os procedimentos para auxiliar uma vítima”, explica Ilda Afonso, diretora executiva da União de Mulheres Alternativa e Resposta (UMAR), referindo-se às deficiências de atuação e prevenção em contexto hospitalar nesses casos.
Como uma organização jornalística sem fins lucrativos, dependemos de seu apoio para financiar o jornalismo que cobre assuntos marginalizados em todo o mundo. Doe qualquer quantia hoje para se tornar um Campeão Pulitzer Center e receba benefícios exclusivos!
A ansiedade que Telma sentia era tanta que deu por si a entrar pelas portas interditas a pedir um local isolado onde esperar. “Entrar naqueles corredores foi um ato de desespero total”, refere. Lá, disseram-lhe que teria de aguardar na sala onde estava. Nesse momento, deu por si à procura da porta da saída de emergência. Precisava de estar sozinha, de se afastar daquele espaço cheio de pessoas.
Telma foi vítima de abusos sexuais pelo seu ginecologista há três anos, quando tinha 30 anos. Conhecia o médico havia seis anos, desde que tinha sido mãe, e ia frequentemente às consultas externas do centro de saúde da sua vila. Durante a citologia, vulgarmente conhecida por papanicolau, ele masturbou-a, penetrando-a sucessivamente com um espéculo, que serve para manter o canal vaginal aberto durante o exame. “Lembro-me de estar a conversar com ele quando lhe disse que me doía, de pedir que parasse e ele continuava, forçosamente, com movimentos para dentro e para fora com um ar prazeroso”, conta.
Não era a primeira vez que Telma fazia um papanicolau. Sabia perfeitamente cada passo, porque, em jovem, tinha estagiado no núcleo médico de um hospital e feito voluntariado no centro de saúde da vila, nos rastreios do cancro do colo do útero. “Este é um exame comum quando se pretende detectar, por exemplo, lesões no colo do útero”, explica.
Depois do “exame”, Telma continuava a sentir dores. “Sabia que algo não estava bem, sangrava.” Saiu do consultório, apanhou um táxi e foi para casa. Assim que pôde, no final do dia seguinte, dirigiu-se ao centro de saúde mais próximo, mas não conseguiu ser atendida. “Tentei procurar ajuda [no centro de saúde] um dia depois do abuso, mas não tinham profissionais disponíveis e encaminharam-me para o hospital mais próximo”.
Passados outros três dias, dirigiu-se então a um hospital. Tinha marcas e nódoas negras em torno das virilhas, pequenas dilacerações, da força que o médico fez de cada vez que utilizava o espéculo. Do segurança à rececionista do atendimento, passando pela enfermeira com quem falou, ninguém sabia como responder ao seu pedido de ajuda. Nem sabiam como encará-la.
“Tudo era ainda pior, porque, de repente, sentia um desconforto duplo, uma vulnerabilidade dupla. Trataram-me com pena e, ao mesmo tempo, tinham uma postura de desconfiança”, diz Telma, hoje com 33 anos.
Telma é uma das 47 mulheres sobreviventes que o Setenta e Quatro entrevistou, vítimas de abusos sexuais entre 2000 e 2023. O nome desta mulher é fictício não apenas por medo do agressor, dada a proximidade e familiaridade, mas também por causa de todas as falhas, dor e vergonha que sentiu com a falta de “sensibilidade e apoio num lugar que deixou de ser seguro” para ela.
Há um desconhecimento significativo por parte dos profissionais de saúde sobre como lidar com sobreviventes de abusos sexuais. Um estudo do Centro de Atendimento Emancipação, Igualdade e Recuperação (EIR), coordenado pela UMAR e a que o Setenta e Quatro teve acesso, revela que apenas 38,9% dos profissionais inquiridos afirmam sentir-se seguros para responder a um pedido de ajuda de uma vítima de violência sexual.
Sentada nas escadas junto à porta de saída de emergência, Telma foi finalmente chamada e encaminhada para um gabinete médico. Aquele local lembrava-lhe o mesmo gabinete do centro de saúde da vila onde vivia, a cerca de 100 quilómetros do hospital em que se encontrava.
Este hospital tinha kits de violação, mas existem unidades locais e centros hospitalares que ainda não dispõem destes kits, que servem para recolher os vestígios de prova da violentação. A região Centro é das mais afetadas, como refere Teresa Maria Magalhães, médica-especialista e docente de Medicina Legal. Por norma, esta recolha deve ser feita por um médico de medicina legal, chamado pelo hospital. Estes procedimentos não são efetuados nos centros de saúde, o que leva a que as vítimas tenham de, por vezes, percorrer centenas de quilómetros até chegar ao centro hospitalar mais próximo.
A solução apresentada por alguns especialistas, como é o caso de Teresa Maria Magalhães, é recorrer a Centros de Atendimento de Crise. Mas existem apenas dois em Portugal: um em Lisboa e outro no Porto.
Se em 2009 se noticiava que mulheres, vítimas de violação, aguardavam até 12 horas pela perícia do médico-legista no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, o cenário não é muito diferente nos dias de hoje. Quem o diz é Luís Mós, dirigente sindical da SINDEPOR e enfermeiro de Obstetrícia no antigo Hospital Amadora-Sintra: “É importante reconhecermos que se evoluiu, mas não o suficiente: ainda hoje isto acontece, o que mostra que os hospitais ainda não estão preparados para receber vítimas de violência sexual”.
Sempre que os peritos especialistas não estão disponíveis, estas mulheres sobreviventes correm o risco de não assegurarem a prova que fundamente a queixa-crime. “Quando não são especialistas de medicina legal a fazer as colheitas, [que sabem fazê-las] de acordo com as normas ,elas podem não ser tão bem feitas. E, às vezes, uma colheita mal feita, uma amostra mal preservada ou mal enviada pode não ter valor em termos de prova”, explica Teresa Maria Magalhães.

Esta professora do Departamento de Ciências de Saúde Pública, Forenses e Educação Médica da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto realça que todos os anos repete aos seus alunos de quinto ano de Medicina a importância de improvisarem para recolher vestígios numa urgência. “Se não há kits, os médicos têm de arranjar material e embalagens para remeter [os vestígios]. Não podem recusar-se a ver a vítima e isso ainda falha um bocadinho”, diz. “Ao passo que se for um perito do Instituto de Medicina Legal, ele tem o material sempre todo consigo.”
Telma tinha-se lavado. É comum as vítimas de abuso sexual lavarem-se: sentem-se sujas. Isso leva a que a presença de fluídos do agressor no corpo da vítima se reduza drasticamente. O exame deve ser feito num prazo máximo de 72 horas.
Apesar de a lei das perícias médico-legais permitir que o médico de serviço na urgência possa receber a pessoa e fazer as colheitas em determinadas situações, a maior parte das vítimas não chega dentro daquela “janela de oportunidade”, refere Teresa Maria Magalhães, ou seja, o tempo que os especialistas consideram adequado para fazer a colheita de vestígios com segurança.
O que acontece na maioria dos casos, explica esta especialista forense, é que estas mulheres pensam e ponderam durante muito tempo se devem ou não avançar, acabando por desistir. “E, quando vão a um serviço hospitalar, fazem-no depois de urinar, depois de comer, depois de se lavarem, de lavarem a roupa, de deitarem a roupa fora”, considera. “Depois de uma série de coisas que se traduziram, nada mais nada menos, em destruição de vestígios.”
Telma não conseguiu cumprir o período recomendado, no centro de saúde não a examinaram. Já no hospital, nos 30 minutos que se seguiram depois de entrar no gabinete médico, sentiu-se novamente violada. “Tive de ficar toda nua, coberta por um lençol branco, e deixar que uma enfermeira me limpasse o corpo inteiro para recolher quaisquer evidências que pudessem conter o ADN do médico”, recorda. Entrou mais uma pessoa na sala, o perito. “As minhas zonas íntimas foram investigadas, vasculhadas, esfregadas e intensamente examinadas por um estranho”, recorda, a custo. Telma veio a desistir de apresentar queixa contra o ginecologista. “Todo aquele ambiente, a forma como me senti, completamente abandonada… foi traumatizante.”
Os hospitais estão prontos para receber e cuidar de vítimas de violência sexual?
As instituições de saúde, sejam públicas ou privadas, têm, desde 2022, orientações de atuação para com situações de violência entre adultos, definidas no Programa Nacional de Prevenção da Violência no Ciclo de Vida, um guia elaborado pela Direção-Geral da Saúde para lidar com casos de violência entre profissionais de saúde, mas que pode ser adaptado a outro tipo de ocorrências.
Mas esta orientação não chegou a todos: dos dados que o estudo da UMAR recolheu, 46,4% dos profissionais de saúde referem não ter conhecimento de qualquer protocolo ou consideram que o mesmo não foi útil para a sua intervenção. Mas há mais: 73% profissionais responderam não conhecer serviços de apoio especializados para vítimas de violência sexual.
A Teresa Maria Magalhães não deixa de lamentar o facto de grande parte dos profissionais de saúde não saber como contactar os peritos. “Os contactos dos médicos de medicina-legal estão sempre lá, eles é que não sabem”. Porquê? Existem falhas na comunicação interna e externa nos estabelecimentos hospitalares e nos consultórios, dizem os profissionais de saúde. A “benevolência” ou a “desacreditação” das pacientes é “muito comum” particularmente quando é feita uma queixa ou reclamação de algum elemento do corpo clínico. Por vezes, não sai das chefias intermédias. “Depende da forma como a queixa for feita e qual o tipo de queixa. E depende se a pessoa é querida ou não querida no serviço”, explica Mário Macedo, enfermeiro e coordenador da Unidade Epidemiológica e Saúde Pública Hospitalar no hospital Professor Doutor Fernando Fonseca, antigo Hospital Amadora-Sintra.
Nos casos de assédio verbal ou de insulto, a probabilidade do caso passar “pelos pingos da chuva”, diz o enfermeiro, é ainda maior. “Se for um enfermeiro ou um médico que disse isto ou aquilo, ninguém vai ligar. Provavelmente perguntam ao enfermeiro ou ao médico o que aconteceu, ele irá dar uma resposta muito bonita e o caso fica por ali, arrumado”.
Luís Mós, dirigente sindical da SINDEPOR, alerta para uma má gestão e comunicação interna nos hospitais desde o início dos anos 1990. “Quando comecei a exercer, na Urgência de São Francisco Xavier [Centro Hospitalar de Lisboa], um enfermeiro foi acusado de abusar sexualmente de três doentes mulheres e nada aconteceu. Ficou por ali.” Todos os seus colegas sabiam, mas não fizeram nada. “Ficou na chefia intermediária, que tem muito poder, e nem sequer chegou à direção do hospital.”

As orientações são claras e transversais: apesar de os regulamentos variarem de instituição para instituição, todos devem seguir o mesmo critério. O primeiro passo é aconselhar as vítimas a fazerem uma reclamação formal e reportar o caso ao chefe de equipa, explica Mário Macedo. Seguem-se “mais chefes dos chefes”, até que chegue ao departamento jurídico do hospital e ao conselho de administração.
O Setenta e Quatro questionou o Ministério da Saúde sobre estes procedimentos e as suas obrigações em todos os cenários hospitalares e médicos, mas não obteve qualquer resposta até à publicação deste artigo.
Questionamos ainda a Ordem dos Médicos e a Ordem dos Enfermeiros para perceber se tinham recebido alguma queixa ou reclamação dos profissionais de saúde respetivas a estes procedimentos. Ambas nada responderam sobre este tema.
“O corporativismo existe, é um facto”, reconhece Mário Macedo. “Não há profissão que seja imune a este tipo de corporativismo, mas umas poderão ser mais que outras, basta terem mais poder”, defende este enfermeiro de Pediatria.
Os médicos, enfermeiros e assistentes operacionais que o Setenta e Quatro entrevistou não recusam a possibilidade destes casos acontecerem dentro do hospital ou de um consultório.
Apesar do Sindicato dos Médicos do Norte não ter identificado casos de abusos sexuais entre médicos e pacientes, o mesmo não acontece entre os profissionais. “O assédio moral também existe entre profissionais e uma urgência, por exemplo, é um local muito propício a isso, dado o stress que se vive”, diz Joana Bordalo Sá, presidente deste sindicato. "Uma pessoa numa urgência chega a ser alvo de agressões físicas, verbais e, eventualmente, sexuais. Mas isto em todas as direções: - tanto de utentes para profissionais, e vice-versa, como entre os próprios profissionais”, reconhece.
As denúncias que “não passam pelos pingos da chuva”
Desde 2020, são várias as notícias sobre casos de violação e coação sexual em contextos médico-hospitalares. Nas últimas semanas, multiplicaram-se as notícias sobre um médico radiologista com consultório privado em Bragança: foi presente a um juiz de instrução acusado de dois crimes de violação. O caso vai avançar para julgamento, uma vez que o juiz considerou haver indícios de crime.
Há cerca de um mês, um médico ortopedista do hospital de Penafiel foi suspenso de funções, suspeito de ter violado duas doentes. O médico de 60 anos foi detido pela Polícia Judiciária e presente a juiz de instrução, que o deixou sair em liberdade, impondo-lhe como medidas de coação a suspensão de funções e a proibição de contacto com as vítimas.
Além destes dois casos, existe um terceiro caso de um médico ortopedista, de 68 anos, que em julho de 2021 foi suspenso de funções do hospital público da Covilhã pela alegada prática de um crime de violação e quatro crimes de coação sexual. Dois meses depois de ter sido suspenso, o médico foi absolvido das duas acusações que avançaram para tribunal, uma de violação e uma de coação sexual. Hoje a exercer no mesmo hospital, o médico aguarda o veredito do Tribunal da Relação de Castelo Branco, uma vez que as vítimas recorreram da decisão.
Os casos destas notícias envolveram sempre mais do que uma paciente, em contexto de exames, sem a presença de qualquer outro profissional. Em especialidades como a de Ginecologia, a Organização Mundial de Saúde recomenda a presença de dois profissionais na realização de exames ginecológicos, recomendação que os hospitais portugueses incluem nas suas normas e regulamentos. Mas, noutras especialidades, a tendência tem sido a da desvalorização.

Na assistência a adultos, recomenda-se que, em qualquer observação mais íntima ou mais resguardada, seja pedido a um enfermeiro do mesmo sexo do paciente que esteja presente. “Mas esta é uma prática que, em qualquer outra especialidade que não Ginecologia, não está escrita”, alerta Mário Macedo.
Os profissionais de saúde revelam que se torna impossível seguir à risca esta norma, não só pela falta de recursos. Daí dizerem ser importante “seguir à risca” as dotações seguras, para que lugares como o internamento, as urgências e os gabinetes de exames não se revelem propícios a este tipo de práticas.
As dotações seguras partem de uma norma - publicada em 2019 no Diário da República - que obriga a uma gestão calculada das equipas de enfermeiros para garantir a qualidade e a segurança da prestação de cuidados de saúde, exigindo aos conselhos de administração mais recursos para os seus serviços.
Para Mário Macedo, as dotações seguras são um pormenor muito importante, mas a questão é outra: estão a ser efetivamente cumpridas? “Depende da força que equipas de enfermagem e médicas têm de serviço para serviço”, garante este enfermeiro. “As dotações seguras são especialmente importantes nas urgências, quer com enfermeiros como com médicos, nos internamentos e nas alas psiquiátricas, pois só assim é que se garantem pessoas suficientes por turno, principalmente nos da noite.”
A dificuldade em controlar estas situações é cada vez maior. Apesar de a Entidade Reguladora da Saúde ter registado 58 queixas e reclamações sobre violência, agressão e/ou assédio até ao final de maio deste ano, desde 2015 que este número tem aumentado de forma exponencial. Só este ano as queixas apresentadas equivalem a 69% das do ano anterior.
Recordar estes dados é relevante porque os especialistas colocam-nos em perspetiva, no que diz respeito ao que se pode fazer para prevenir, combater e proteger pacientes dos lugares propícios a abusos sexuais. Mas a dúvida é transversal: “é muito difícil. Os doentes estão num ambiente fechado, o que vão querer é defender a sua própria intimidade. Não podemos pôr câmaras. É uma questão de segurança versus privacidade. Infelizmente, este vai ser sempre um campo minado”, lamenta Luís Mós.
A contratação dos assistentes operacionais é outra preocupação. A carreira profissional de técnico auxiliar de saúde foi extinta em 2008 e esta decisão fez com que deixassem de existir critérios específicos para a sua contratação. “Isto não só ameaça qualquer mérito da profissão como abre margem para qualquer pessoa entrar”, diz João Fael, representante da Associação de Auxiliares de Saúde (APTA) e assistente operacional do Hospital de Castelo Branco. Desde maio deste ano, há um projeto de decreto-lei a decorrer na Assembleia da República para criar a carreira de técnico auxiliar de saúde, que abrangerá todos os assistentes operacionais do SNS.
Depois do abuso, Telma nunca mais foi vista por um médico ginecologista. Recusa-se a ir a um hospital e ao centro de saúde da sua vila. Voltar a esses espaços é sinónimo de reviver acontecimentos traumáticos e, nos últimos três anos, teve vários episódios de ataques epiléticos e crises de ansiedade, diagnosticadas depois do abuso. “Não consigo controlar. O que mais me deixa chateada é que a minha vida era completamente normal até àquele dia.”
Telma voltou, entretanto, a rever o ecrã com a contagem de pacientes daquela sala de espera das urgências. Tinha desmaiado, levaram-na a um hospital. “Mal acordei, entrei em pânico”, diz. Escondeu o catéter onde lhe era administrada a medicação, porque não queria que ninguém lhe tocasse. Assinou o termo de responsabilidade e pediu que lhe baixassem a grade da cama. “Saí a correr, porque só sentia que tinha de fugir dali.”
À saída, ainda teve tempo de reparar que o número no ecrã na sala de espera das urgências era exatamente o mesmo de quando lá entrou pelo próprio pé para denunciar o abuso sexual de que tinha sido vítima: 29 pacientes aguardavam a sua vez.
Com Cláudia Marques Santos, uma investigação em colaboração com o jornal Público, apoiada pela bolsa de jornalismo Gender and Equality do Pulitzer Center.